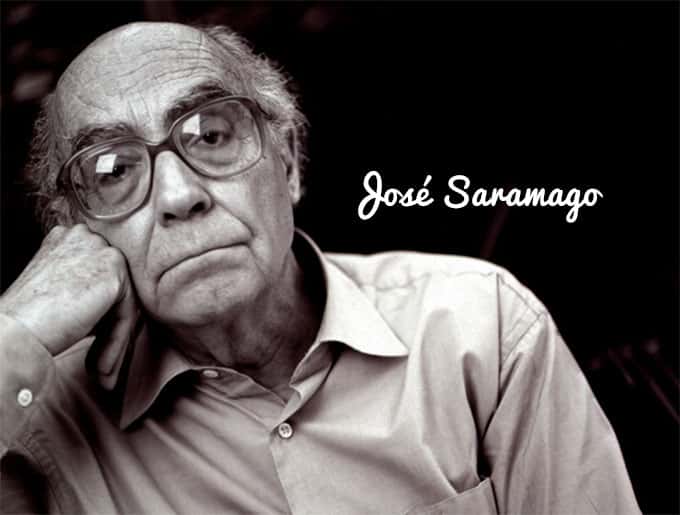Brasil – Os primeiros cem anos (1500-1600)
Um mundo conflitivo
Para o século 20, o ano de 1917, o ano da Revolução Russa foi o detonador de décadas de lutas ideológicas que se travaram pelo mundo inteiro até bem recentemente entre o Comunismo, as Democracias Liberais e o Nazi-fascismo, provocando a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e, em seguida, a longa Guerra Fria (1947-1989). Para o século 16, o século da descoberta do Brasil, o ano de 1517, a data que assinalou o início da Reforma luterana, teve um papel traumático e divisionista similar ao da Revolução de 1917. A Cristandade, além de enfrentar o seu inimigo secular, o Islã, cindiu-se, na Europa Ocidental num “equador religioso”, em duas partes inconciliáveis: o Catolicismo e o Protestantismo.
Infiéis, hereges e pagãos: Portugal, Reino Cristão e Católico, viu-se no transcorrer do século 16 obrigado a ampliar as fronteiras do litígio. Até o século 15 seu inimigo maior foi o Islã, mobilizando-o na luta contra os mouros. Com a Reforma e a ocupação colonial que realizou no século 16, seus adversários aumentaram. No Brasil, o Reino Luso, graças ao Padroado que o papado lhe legou, representou a Cristandade na extirpação do Paganismo fetichista dos silvícolas, determinando sua conversão em massa.
Ao mesmo tempo em realizava sua ofensiva missionária sobre as comunidades indígenas, atuava, como defensor da Contra-Reforma e da ortodoxia católica. Combatia tanto os hereges protestantes como os possíveis vestígios de judaísmo que haviam sido transpostos para o Brasil pelos cristãos-novos que vieram em busca de melhores meios de vida e de liberdade. Primeiro conseguiram expulsar os huguenotes franceses do Rio de Janeiro e , depois, no século 17, guerrearam com sucesso os calvinistas holandeses no Nordeste, impedindo-os de afirmarem-se na região. Quanto aos hábitos judaizantes, reprimiram-nos pelas Visitações do Santo Ofício à Bahia e ao Recife. O Brasil ficou sob jurisdição do Tribunal da Inquisição de Lisboa e, recebeu visitas vindas de Portugal, sendo que o primeiro Visitador foi Heitor Furtado de Mendonça, que aqui chegou em junho de 1591.
Católico: o Brasil dos quinhentos nasceu em meio aos tormentos da grande e múltipla luta religiosa do século 16, agregando-se desde os seus princípios ao universo Católico Apostólico Romano. Manifestação dessa afirmação religiosa são as designações das capitanias, das primeiras vilas e de grande parte da toponímia e, a existência dos festejos, até hoje celebrados nos sertões do Nordeste e do Leste do país, das cavalgadas de “Mouros contra Cristãos”, relembrando a luta titânica dos antepassados fundadores. E esta catolicização começou oficialmente com a designação de Ilha ou Terra de Vera Cruz, isto é, terra pertencente à verdadeira cruz, e suas partes divisórias igualmente receberam designações de ícones católicos que até hoje alguns dos nossos estados mantém (São Paulo, Santa Catarina, Espirito Santo) bem como as grandes cidades (São Paulo, São Sebastião do Rio de Janeiro, Santos, São Salvador da Bahia, Nossa Senhora do Grão Pará, etc..).
As armas da conquista do Brasil
(administrativas, espirituais e econômicas)
Medidas administrativas: nas primeiras décadas do século 16, Portugal não manifestou maiores interesses pela ocupação do litoral da terra de Vera Cruz. Arrendou-o, num contrato renovável a cada três anos, para um sindicato de cristãos-novos, liderado por Fernão de Noronha, que aqui esteve em viagem de reconhecimento em 1503. Os contratantes comprometiam-se a manter uma pequena esquadra de 6 barcos patrulhando o litoral, bem como construir um forte ( em Cabo Frio), entregando também a del-rei 20 mil quintais de pau-brasil.
Um pouco antes, em 1501, D.Manuel, o Venturoso, enviou uma expedição naval de reconhecimento capitaneada por D. Nuno Manuel que trouxe Américo Vespúcio a bordo. Ela percorreu o litoral da nova terra por mais de 4.600 quilômetros, dando nome aos acidentes geográficos que encontrou pelo caminho, cabos, bocas de rios, enseadas e baias, desde o cabo de São Roque, na linha do equador, até a ilha de Cananéia, onde hoje é o Estado do Paraná. Não visualizaram nada de ouro ou preciosidade outra que motivasse um interesse maior e mais imediato para o olho guloso do monarca.
O passo seguinte ao arrendamento foi a doação de capitanias, sistema adotado pelo rei D. João III, em 1534. As terras do Brasil, a partir do litoral, medindo de 30 até 100 léguas, foram divididas em 15 parcelas e doadas a 12 fidalgos portugueses na expectativa que eles se interessassem em protegê-las e torná-las prósperas. No entanto, a sua maioria não se mostrou capaz de afastar os franceses, aumentar a extração da preciosa madeira, ou mesmo impulsionar qualquer outra tipo de exploração de “lenho comercial” que tornasse as posses economicamente viáveis.
O governador-geral: o evidente fracasso do sistema de capitanias e a crescente preocupação com a rivalidade na disputa pelo controle do litoral brasileiro (a Espanha, pelo Tratado de Saragoça, de 1529, reconhecera os direitos lusos sobre o Brasil), assediada por contrabandistas e corsários atrás do pau-de-tinta, fez com que o rei português tomasse duas medidas de larga repercussão histórica. Em 1548 nomeou por carta régia a D.Tomé de Souza como o primeiro governador-geral do Brasil. Fracassados os dois projetos privatizantes, o do arrendamento e o das capitanias, o reino estatizou a ocupação e a colonização o que também teve largas implicações históricas e culturais no destino do Brasil. O escolhido vinha com suas tarefas bem detalhadas pelo Regimento de Almerim – que muitos insistem ser a “Primeira Constituição do Brasil”. Além de fundar a cidade de Salvador, nome previamente determinado pela Coroa, devia ele construir engenhos, criar estaleiros, proteger os silvícolas, estabelecer os assentamentos da futura cidade-capital a ser erguida “mais para dentro na bahia”, ser magistrado, povoar terras, erguer fortificações, inspecionar as capitanias bem como assegurar-lhes a segurança , promover os serviços religiosos, supervisionar o comércio do pau-de-tinta, estimular as entradas no sertão atrás das drogas e reprimir os corsários e contrabandistas que assolavam o litoral.
A “Armada do Brasil”, que desferrou-se de Lisboa em 1º de fevereiro de 1549 para realizar a grande atravessia contando com “prósperos ventos”, perfazia um total de 8 barcos, sendo a maior frota expedida pelo Rei D.João III em direção a nova colônia. Numa viagem “segura, rápida e bonançosa”, impulsionada por “ares amiguentos”, demoraram apenas 56 dias para atingir a Baia de Todos os Santos na capitania da Bahia. Com o recém nomeado preposto real, enviando com ele, aportaram na Bahia em 29 de março de 1549, para os trabalhos de catequese, um pequeno grupo de padres jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega.
O poder clerical: o mais alto poder eclesiástico se fez presente três anos depois da fundação de São Salvador, com o desembarque em 22 de junho de 1552, de D.Pedro Fernandes Sardinha, que vinha atender aos rogos do padre Nóbrega para que providenciassem um bispo “para vir trabalhar e não para ganhar…..porque a terra é pobre”. A cidade de Salvador, que recebeu como armas “uma pomba branca com três folhas de oliva no bico, em campo verde, com um rolo à roda branco”, onde dizia Sic illa ad Arcam reversa est, por sua vez, tornou-se o ponto estratégico para a ocupação e vigilância do vastíssimo litoral a ser protegido. Ela foi a capital do Brasil Colônia até 1763, quando depois de ser sede do governo-geral por 214 anos, trocaram-na por São Sebastião do Rio de Janeiro.
Medidas militares: além de barcos-patulha, foram instalados vários fortes e fortins ao longo da costa brasileira. Construídos primeiro com taipa, madeira e adôbe, depois com pedra e cal. Erguidos em Santos a partir de 1532, eles se espalham pelo Rio de Janeiro (São João), arredores de Salvador (Santo Antônio da Barra, São Felipe, e São Bartolomeu), e em frente ao Recife e a Olinda (do Mar, e de São .Jorge, o velho)
As vítimas: para os indígenas (as principais tribos conhecidas, de norte para o sul, eram os potiguares, os tremembés, os tabajaras, os caetés, os botocudos, os tupiniquins, os temiminós, os goitacás, os tupinambás, os tamoios e os carijós, e umas outras 200 espalhadas pelo restante do país), a conquista se mostrará terrível.
Conforme o escambo dava lugar à lavoura, eles foram vítimas de uma crescente caça por sua mão-de-obra. A provisão de D.Sebastião de 1573, de só permitir a servidão forçada em caso de “guerra justa”, impedindo a captura dos índios, nada adiantou na prática. Nem lhes serviu a anterior emissão da bula papal Veritas ipsa, de 1537, que os reconhecia como “verdadeiros homens”, mesmo que não tivessem conhecimento dos ensinamentos de Cristo.
Indignados e revoltados contra o trabalho servil, eles promoverão várias rebeliões. O tupinambá “se alevantou e cometeu grandes insultos “, como assegurou Gabriel Soares de Souza, tais como a Revolta Brasílica, durante a governadoria de D.Duarte da Costa, em 1555, ocorrida na região do Recôncavo baiano, sufocada por ele e por seu sucessor Mem de Sá, devido à superioridade armada e melhor organização do colonizador.
Mais dos que as guerras que os colonos lhes moviam, o que mais os dizimou foram as epidemias provocadas pelo contanto com o homem branco. Destituídos de anticorpos morriam aos magotes, devastados pelo sarampo e pela varíola e, por vezes, por uma simples gripe. ”Destruíram-nos , pouco a pouco” assinalou o cronista Gândavo, lembrado por Mario Maestri Filho, fazendo com que “a costa” ficasse “despovoada de gentio”. Dos dois milhões deles estimados à época do descobrimento, restam hoje pouco mais de 300 mil. É certo que grande parte da população original necessariamente não foi morta, mas sobreviveu graças ao intenso processo de miscigenação, fazendo com que isso se tornasse numa característica determinante do multiculturalismo brasileiro.
Distribuição das Donatárias
Capitania – Pará (1ºquinhão) | Donatário – João de Barros e Aires da Cunha
Capitania – Maranhão | Donatário – Fernão Álvares de Andrade
Capitania – Piauí | Donatário – Antônio Cardoso de Barros
Capitania – Itamaracá (1ºquinhão) | Donatário – João de Barros e Aires da Cunha
Capitania – Itamaracá (3º quinhão) | Donatário – Pero Lopes de Sousa
Capitania – Pernambuco | Donatário – Duarte Coelho
Capitania – Bahia | Donatário – Francisco Pereira Coutinho
Capitania – Ilhéus | Donatário – Jorge Figueiredo Corrêa
Capitania – Porto Seguro | Donatário – Pero do Campo Tourinho
Capitania – Espírito Santo | Donatário – Vasco Fernandes Coutinho
Capitania – São Tomé | Donatário – Pero de Góis
Capitania – Rio de Janeiro (1º quinhão) | Donatário – Martim Afonso de Sousa
Capitania – Santo Amaro (1º quinhão) | Donatário – Pero Lopes de Sousa
Capitania – São Vicente (1ºQuinhão) | Donatário – Martin Afonso de Sousa
Capitania – Sant’Ana (2º quinhão) | Donatário – Pero Lopes de Sousa
Política Jesuíta
Aldeamento
Redução em massa dos índios a uma nova coletividade subordinada a autoridade do padre
Colégio
Formação de uma elite nativa com a função de multiplicar e difundir a catequese
A conquista econômica: nas primeiras décadas de presença européia na Terra de Vera Cruz o interesse mais concreto pela região descoberta limitou-se ao extrativismo. A abundância do ibirapitanga, o pau-de-tinta, como chamavam-no os índios, estabeleceu a prática do escambo dos europeus com os nativos. Em troca de objetos de enfeite e de muitos utensílios práticos, eles mostravam boa vontade em cortar e ajudar a transportar para os navios, os troncos retirados da floresta. A possibilidade de obter-se essa abundante madeira-tinta no litoral do que veio a se chamar Brasil, logo atraiu marinheiros normandos e bretões e de outras nações, prontos em abastecer as tecelagens flamengas e outras.
Entradas: verificou-se, paralelo ao extrativismo, o estímulo por parte dos lusos, a que se fizessem várias “entradas” partindo-se da costa, para averiguar a existência de alguma gema valiosa, ou veio de ouro ou prata. Lendas a respeito da existência de uma Serra das Emeraldas ou de outra inteiramente de Prata, as estimularam. Aproveitando-se das embocaduras dos rios, remando ou velejando em precárias canoas, por vezes remadas por índios, várias operações de desbravamento foram feitas pelo interior do sertão selvático. As primeiras expedições que temos registro foram as três organizadas por Martim Afonso de Souza, sendo que a primeira delas realizou-se em abril de 1531, partindo da baía da Guanabara. A Segunda deu-se próxima a Cananéia, atendendo a boatos de existências de minas e, por fim, a que desvendou o Rio da Prata atraída pelas histórias de Sólis da existência de metal argentino na área. Obedeceram essas entradas, dentro do possível, os limites do Tratado de Tordesilhas, e formaram o que Basílio de Magalhães classificou como “pequena expansão”, estendendo-se de 1504 até 1696.
A cana-de-açúcar: não se sabe a data exata da implantação dos primeiros engenho de cana-de-açúcar no Brasil. O cultivo dela já era dominada há mais de século pelos portugueses, provavelmente desde 1420, quando o Infante D. Henrique, esse faz-tudo do reino de Portugal, mandara trazer mudas da Sicília para plantá-las na ilha da Madeira e nas Canárias. Stuart Shwartz, por sua vez, assegura-nos que a experiência mais concreta com a lavoura da cana foi feita na ilha de São Tomé, revelada aos portugueses em 1471, uma das quatro ilhas do golfo da Guiné. Ali encontraram-se por assim dizer todos os elementos da política de colonização atuando em conjunto (inclusive servindo como um campo de concentração agro-experimental para filhos de judeus) que formariam a base do complexo açucareiro que depois expandiu-se para a costa nordestina do Brasil e zona caribenha.
O primeiro alvará tratando de promover sua introdução no Brasil data de 1516, quando o rei D. Manuel determinou que se encontrasse gente “prática capaz de dar princípio a um engenho de açúcar no Brasil”. Desde que chegou foi uma planta imperialista, derrubando e queimando as matas, espantando ou preando os índios e importando em seguida os cativos africanos. A história do Brasil dos primeiros séculos esteve estreitamente ligada à história do açúcar.
O engenho: no Nordeste coube a Jerônimo de Albuquerque fundar o primeiro deles em Pernambuco em 1535, chamado de engenho da Nossa Senhora da Ajuda, nas proximidades de Olinda. E, a partir de 1538, eles deram a se espalhar pelas margens da Baia de Todos os Santos. Têm a seu favor o massapé, terra negra acolhedora dos pés-de-cana, que se estende desde o Recôncavo nas proximidades de Salvador, até o Ceará, formando uma vasta área apropriada para o desenvolvimento da “civilização do açúcar” e base material para o surgimento posterior do baronato do massapé, que será o primeiro núcleo sólido da estrutura colonial assegurado pelo tripé – monocultura, latifúndio e escravidão.
No sul, menciona-se o famosos engenho de Martin Afonso de Sousa instalado em São Vicente em 1532 e chamado “Senhor Governador”, todo ele provido de gente qualificada trazida da Europa para tal fim. A nobreza nativa: a exuberância e o sucesso da produção açucareira fez com que a Coroa portuguesa desse privilégios e foros especiais aos donos de engenho, tornando-os, -particularmente “a gente da Várzea do Capiberibe” de Pernambuco-, um tipo de nobreza nativa reconhecendo-os como o esteio do que viria a ser mais tarde a classe dominante brasileira por mais de três séculos e meio. Eram os barões do massapé, os soberanos do açúcar.
O engenho, uma das células da globalização de então, singular estrutura composta pela casa grande & senzala, a capela, e as terras cultivadas – o canavial e o mandiocal – formaria um tipo de feudo tropical, dominado autocraticamente pelo seu dono e lavrado pelo africano e seu companheiro de cativeiro, o boi. O proprietário, um grão-senhor, falava com seus escravos aos gritos da varanda do casarão ou do alto da cela do cavalo, hábito que depois exerceria para dirigir-se ao povo em geral. Local autônomo, como observou Fernando de Azevedo, distante do poder do governador-geral na sede da colônia, e mais ainda del-rei, na longínqua metrópole. Tornou-se, para a classe dominante brasileira, uma espécie de escola do mandonismo, onde exercitou o poder utilizando alternadamente a chibata e a sedução. Gilberto Freyre atribui a eles, ao que denominou de sociedade patriarcal, a façanha de manter o imenso país integrado, pois o domínio senhorial baseado no Nordeste brasileiro espalhou-se como um modelo a ser seguido pelas demais regiões, fossem elas dedicadas às minas, ao café ou ao gado.
Nunca foi fácil a vida no Brasil de antanho, de plantar e dar, de orar e colher. Como lembrou o mesmo Freyre “ País da Cocagne (da fartura) coisa nenhuma: terra de alimentação incerta e difícil é que foi o Brasil dos três séculos coloniais. A sombra da monocultura esterilizando tudo. Os grandes senhores rurais sempre endividados. As saúvas, as enchentes, as secas dificultando o grosso da população o suprimento de viveres”.
A escravidão: inequivocamente foi o engenho quem fixou e sedentarizou a colonização do Brasil. Substituindo aos poucos a mão-de-obra indígena sempre rebelada, pelos cativos trazidos em grande parte de Angola, na África – o “carvão humano” incinerado na fornalha para a feitura do açúcar, do melaço, da rapadura e da cachaça -, foi também o responsável pela difusão do escravagismo brasileiro: “Sem negros”, disse o Padre Vieira, “ não há Pernambuco e sem Angola não há negros”.
Comerciar cativos da Guiné – ainda que inicialmente para fins domésticos – era pratica comum dos mercadores portugueses bem antes dos grandes descobrimentos, tanto é que a Coroa criou a Casa dos Escravos em Lisboa para organizar o negócio. Consta que Gil Eannes, ao trazer uma primeira leva deles para a capital em 1432, ou ainda em 1441, teria sido um dos mais conhecidos navegadores lusos a lucrar com o tráfico negreiro. Lisboa porém não era a única a abrir seu porto para tal tráfico pois Lagos no Algarve a seguia. Na metade do século 16, a capital lusitana abrigava quase 10 mil escravos, uns 10% da sua população. Na Bahia, apontam ter sido Jorge Lopes Bisorda quem, no ano de 1538, vendeu, “a quem, melhor lhe pagou”, na Praia da Água dos Meninos em Salvador, a primeira carga do que no eufemismo dos traficantes chamavam de “peças da Índia”, ou ainda de “fôlego vivo”. Estes coitados vieram em grande parte para serem postos no eito, no trabalho de sol-a-sol da lavoura.
Inaugurava-se, segundo Pierre Verger, com esta venda do primeiro lote de infelizes trazidos da África, o primeiro ciclo do tráfico negreiro – o ciclo da Guiné -, fazendo com que até 1591 mais de 52 mil escravos chegassem ao Nordeste. Pernambuco nesta época já possuía 66 engenhos, e Gabriel Soares de Souza contou na Bahia mais de 40 deles.
Ao ciclo da Guiné, seguiram-se ainda, dedicados à exportação de “peças” da costa africana para o Brasil, os “ciclos de Angola e do Congo”, no século 17; o “da Costa da Mina” até 1770 ; e, por fim, encerrando o nefando comércio, o “ciclo da baia de Benin” que se prolongou até 1850.
Com as plantações estrutura-se, no transcorrer do século 16, o comércio triangular transatlântico, tendo um dos vértices em Lisboa, o outro na costa da Angola, e um terceiro no nordeste brasileiro. O açúcar irá centralizar as atenções do mercantilismo português e, depois do holandês, quando eles começam a assolar o território do Nordeste, a partir da incursão bem armada de Van Caarden na Bahia, em 1604.
Séculos mais tarde um observador notou que nenhuma daquelas distintas senhoras inglesas que, desde o século 18, deram à freqüentar os salões de chás abertos na capital londrina, podiam sequer imaginar o histórico de sofrimento, humilhação e degradação humana que se ocultava por detrás de cada torrão de açúcar que delicadamente colocavam na sua chávena para adoçar a infusão. Mal sabiam elas o quanto de suor e de sangue havia sido derramado para gerar aquela pedrinha branca e doce.
Governadorias-gerais
El-Rei – D.João III (1521-1557) | Governador-geral – Tomé de Sousa | Sede – Bahia | Ano – 1549-53
El-Rei – || | Governador-geral – Duarte da Costa | Sede – Bahia | Ano – 1553-56
El-Rei – D.Sebastião (1557-1578) | Governador-geral – Mem de Sá | Sede – Bahia | Ano – 1557-72
El-Rei – || | Governador-geral – Luis de Brito Almeida(norte) | Sede – Bahia | Ano – 1573-78
El-Rei – || | Governador-geral – Antônio de Salema (sul) | Sede – RJ | Ano – 1574-78
El-Rei – D.Henrique (1578-1580) | Governador-geral – Lourenço da Veiga | Sede – Bahia | Ano – 1578-81
El-Rei – Domínio Espanhol Manuel | Governador-geral – Teles Barreto | Sede – Bahia | Ano – 1583-87
El-Rei – Felipe II | Governador-geral – Francisco de Sousa | Sede – Bahia | Ano – 1591-1602
A conquista espiritual: era dever e obrigação dos reis catolicíssimos obter a conversão dos gentios. O papado, a partir do século 14, lhes garantia o usufruto das terras ignotas a serem desbravadas desde que em cumprimento da missão. Para os cristãos ibéricos era-lhes evidente a vocação para esta grande tarefa, pois Deus, entre todos os europeus, os escolhera como descobridores, como os desbravadores dos oceanos “nunca dantes navegados”. Eles eram o novo povo eleito. Como assegurou O Cardeal Infante D. Henrique: “Quando A Divina Providência nos desvendou gentes bárbaras e mares desconhecidos e vinculou o cerro português, reinos e remotos impérios, ao mesmo tempo e sobretudo lhes vinculou a messe e a cultura das almas” Além disso acirrava-se a luta religiosa na Europa. A Dieta de Worms, em 1521, fracassara em deter Martim Lutero. A heresia protestante espalhou-se pela Europa: da Alemanha para a Suíça e desta para a Holanda, Escandinávia e Inglaterra.
A Igreja Católica concentrou suas energias e esperanças na Contra-Reforma, que se estendeu oficialmente de 1534 até bem depois da abertura do Concilio de Trento em 1545, reconhecendo como sua vanguarda a Ordem dos Jesuítas em 1540 e, em seguida, reativando a Inquisição em 1542. Pode-se dizer que a ênfase com que os padres católicos se lançaram na catequese dos nativos do Novo Mundo foi uma forma de compensar-se pela perda de quase todo o centro-norte europeu, que aderira à igreja reformada. Eles, os índios, deviam ser rapidamente convertidos e suas almas conquistadas antes que os hereges o fizessem, ao mesmo tempo em que Visitações do Santo Oficio percorreriam as colônias para expurgar as possíveis ameaças do protestantismo, do judaísmo e do fetichismo.
Aldeamentos e colégios: os padres observaram que os nativos regrediam às práticas tribais (fetichismo, idolatria, canibalismo e promiscuidade sexual) assim que escapavam da sua esfera de influência. Decidiram-se então pela adoção dos aldeamentos indígenas, forçando ou atraindo-os para viverem em comunidades sob sua vigilância. Os jesuítas eram vistos pelos nativos como mágicos, capazes de façanhas miraculosas. Como vieram em número muito reduzido, trataram de edificar colégios, como o que construíram, sob supervisão do padre Manuel da Nóbrega, no Planalto de Piratininga, fundando em 1554, a que Jaime Cortesão chamou acertadamente como a “capital geográfica do Brasil”: a vila de São Paulo, cujo colégio além do ensino ministrado às crianças da região, doutrinava monitores tupis nas noções básicas do catecismo e da gramática para que eles os auxiliassem na divulgação do evangelho.
O padre Anchieta, chamado de piahy, o “supremo pajé branco”, tornou-se, como viu Wilson Martins, um autor engajado, produzindo poemas e autos teatrais com fim doutrinário, para cativar aquelas “almas sem dono”. Aspilcueta Navarro, seu colega, era por sua vez dado a imitar os pajés, repetindo-lhes as danças e as cantorias, e até seus aparentes transes. Esses primeiros jesuítas, diga-se, não tinham nenhuma imagem idealizada dos nativos. Ao contrário, viam-nos como irremediáveis selvagens, dominados pelo demônio, despudorados e promíscuos. Duvidavam que algum dia conseguiriam obter deles uma conversão sincera. Não esmoreceram porém naquela imensa tarefa de tentar a conversão de milhares de aborígines espalhados por terras que eles, os jesuítas, jamais haviam posto os pés ou os olhos.
As visões do indígena
Desde o retorno de Cristóvão Colombo da sua viagem ao Novo Mundo feita em 1492, um intenso debate deu-se entre os teólogos, acadêmicos, humanistas e escritores europeus, sobre qual a natureza dos seres aqui encontrados. Os índios americanos, os peles-vermelhas, eram até então completamente desconhecidos pelo homem branco. Eram uma incógnita. Seriam eles humanos ou não? Teriam ou não uma alma?
A visão negativa: para os funcionários, os colonos reinóis, e outros aventureiros, que para cá vieram os nativos eram um caso perdido de selvageria, merecendo os tormentos que sofriam em mãos dos conquistadores. “Se Deus não tiver piedade desses selvagens” – registrou o navegador francês Nicolás Barré, em 1555 – “eles dificilmente serão convertidos ao cristianismo, e isso, sobretudo, em razão do seu detestável hábito de comerem-se uns aos outros”.
Se é certo que tinham forma humana não passavam porém de bestas. Eram uns perdidos. Gente amoral e primitiva – humunculi, como disse deles Sepulveda -, somente resgatados da incivilidade por meio de um estágio servil, onde seriam esculpidos cristãos à chibatadas.
A “guerra justa” que diziam os conquistadores e colonos travar contra eles era justificada como um instrumento válido, preliminar, um período probatório da sua possível civilização.
Não foi esta porém a posição do papado, visto que Paulo III, na bula “Veritas ipsa” de junho de 1537, convencera-se da sua humanidade e enternecera-se pelos relatos celebrativos ao comportamento manso, dócil e benigno, dos índios, especialmente o divulgado pelas cartas de Vespúcio, não encontrando pretexto algum que justificasse a que os cristãos os escravizassem. Postura idêntica a que mais tarde adotou Frei Bartolomeu de las Casas, o bispo de Chiapas, o Apóstolo dos Índios, quando travou memorável polêmica em Valladolid no ano de 1550, contra o teólogo Ginés de Sepulveda, que sustentava a inevitabilidade dos tormentos prévios do índio antes da sua evangelização.
Os portugueses pelo menos nunca os idealizaram, nem os pintaram como “bons selvagens”, nem o Brasil como uma recanto perdido do Éden, como foi pródiga certa literatura fantástica. Ao contrário, segundo Anchieta escreveu em 1583, a nova terra nada tinha de Paraíso. Era isto sim pecaminosa, como se fosse uma Sodoma tropical:
“É terra desleixada e remissa e algo melancólica e por esta causa os escravos e os Índios trabalham pouco e os Portugueses quase nada e tudo se leva em festas, convívios e cantares…e uns e outros são mui dados a vinhos..”
Para Mateus Nogueira os índios brasileiros eram os amaldiçoados descendentes de Caim, o filho de Noé “que descobriu as vergonhas do seu pai bêbado…e por isso ficaram nus e têm outras mais misérias.”
E o pior de tudo é que eram dados à antropofagia. Cenas horripilantes de canibalismo foram testemunhadas pelo jesuíta Aspilcueta Navarro, pelo alemão Hans Staden, prisioneiro dos tupinambás, e ainda por Jean de Lery, o calvinista que esteve com Villegaignon no Rio de Janeiro em 1557.
Quem literariamente também os difamou foi Shakespeare na sua peça “The Tempest” (A Tempestade, 1611) – uma elegia ao colonizador branco -, criando o personagem Caliban, um índio pele vermelha, fisicamente repelente, vicioso e ressentido com a dominação do europeu, não lhe reconhecendo as virtudes da superioridade cultural e técnica do homem branco.
A idealização do indígena: no entanto, em oposto a tais testemunhos ou figurações, encontramos diversas idealizações da vida dos selvagens. Na Inglaterra, inspirado no relato da existência deles, tendo uma vida sem propriedade privada nem estado, estimulou a que Thomas Morus, o chanceler do reino, escrevesse uma narrativa clássica sobre uma idílica sociedade perfeita: a Utopia, aparecida em 1516, Coube a Michel de Montaigne, o autor dos Ensaios, a primeira descrição favorável a eles na língua francesa. Montaigne, que chegou a entrevistar um tupinambá em Rouen, desculpou-lhe o primitivismo : “A essa gente”, escreveu, “que chamamos selvagens como denominamos de selvagens os frutos que a natureza produz sem intervenção do homem…as próprias palavras que exprimem a mentira, a traição, a dissimulação, a avareza, a inveja, a calúnia, o perdão, só excepcionalmente se ouvem….São homens que saem das mãos de deuses” ( Dos canibais, cap. XXXI). Desculpou-lhes inclusive a devoração humana, considerando-as amenas perto das maldades feitas entre os brancos, então envolvidos em guerras religiosas na França.
Foram essa palavras edificantes a respeito do indígena brasileiro que inspiraram, três séculos depois, no século 18, o filósofo Jean Jacques Rousseau a desenvolver a concepção segundo a qual o homem nasce puro e generoso cabendo a civilização um papel negativo, corrompendo-o e pervertendo-o. E, antes deles, a retomada das antigas teoria romanas do Direito Natural, dos direitos da gentes, reavivadas no século 17 pelos grandes juristas como Hugo Grotius e Puffendorf. Teoria que serviu de estofo filosófico para as Declarações dos Direitos Humanos que seguiram desde então, e também para alimentar os sonhos de uma sociedade perfeita a ser constituída no futuro.
Como assinalou Affonso Arinos: “a participação do índio da Guanabara, descrito por Lery e Thevet (dois franceses calvinistas que estiveram com Villegagnon na França Antártica) e transformado, pelo gênio de Montaigne, em instrumento revolucionário, na concepção rousseauniana da bondade natural é, pois, absolutamente inegável.”
A França Antártida
Alguma vez eu abandonarei esse mundo,
E me entregarei ao acaso à fortuna das ondas
Para poder desembarcar na margem onde Villegaignon
sobre o polo Antártico semeou vosso nome
Pierre de Ronsad – “Ode à Odet de Coligny”, 1562
Da década de 1550, estendendo-se até aos arredores de 1620 – por mais ou menos uns 70 anos -, a costa leste-nordeste brasileira foi palco de vivíssima disputa entre dois poderosos reinos europeus. Decidiam eles, disse Capistrano de Abreu, “o Brasil ser luso ou francês”, pois a França jamais aceitou a partilha do mundo e dos mares entre a Espanha e Portugal feita em Tordesilhas com a benção do Papa. Como assegurou então Francisco I, o rei francês, ele “ignorava o testamento de Adão”. Um grande soldado do reino Nicolas Durand de Villegagnon, dotado de espírito de aventura e conquista, imaginou instalar em algum lugar do Brasil um refúgio para os perseguidos em França, então cada vez mais atormentada pelas guerras de religião e mergulhada em perseguições de toda ordem. Em 10 de novembro de 1555, Villegagnon fundou o Forte Coligny na baía de Guanabara, na então chamada ilha de Serigipe. Imaginou-o como um ponto de apoio para, pouco depois, estabelecer uma base em terra firme, batizando o empreendimento como a França Antártida.
Trouxe originalmente umas 600 pessoas, grande parte delas criminosas, para formar uma comunidade de novo tipo. Dois anos depois do desembarque francês, em 1557, atendendo a uma sua carta enviada a Calvino em Genebra, arribaram os chamados 14 apóstolos, um grupo de pastores calvinistas com missão evangelizadora. No festivo desembarque que lhes prestou, Villegagnon disse-lhes: “meus filhos, assim como Jesus Cristo nada teve deste mundo para si e tudo fez para nós, assim eu pretendo fazer aqui para todos aqueles que vierem com o mesmo fim que vistes. É minha intenção criar aqui um refugio para os fiéis perseguidos em França, na Espanha ou em qualquer outro pais de além-mar, a fim de que sem temer o rei nem ao imperador, nem quaisquer potentados, possam servir a Deus com pureza conforme a sua vontade.” Entre os recém chegados encontrava-se Jean de Léry, que, bem depois, retornado à França ao fracassar o experimento, escreveu um dos mais fascinantes relatos dessa experiência frustrada e um dos mais notáveis ensaios etnológicos sobre o Brasil daqueles tempos.
A festa brasileira em Rouen: como elemento deflagrador do projeto da França Antártica interessa mencionar a chamada Festa Brasileira, encenada em Rouen, no dia 1º de outubro de 1550, portanto cinco anos antes do desembarque de Vilegagnon na baia de Guanabara. Os principais investidores do projeto, os armadores e mercadores da próspera cidade normanda, providenciaram uma sensacional montagem de quadros vivos que procuravam reproduzir, em solo francês, a paisagem tropical brasileira e o modo de viver da sua gente. Entre os figurantes encontravam-se 50 índios tupinambás que, misturados a marinheiros fantasiados, simularam um combate entre as duas tribos rivais, a dos tupinambás amigos dos franceses, e a dos tabajaras, aliados dos lusos.
Além do rei Henrique II e sua esposa, a rainha Catarina de Medici, convidados especiais para a festa, apresentada como uma luxuosa “entrada” com recortes vivos das coisas do Novo Mundo, estavam presentes a célebre e infeliz rainha da Escócia Mary Stuart bem como grande número de representantes diplomáticos europeus.
O conflito teológico: Villegagnon na Guanabara aliou-se com a chamada Confederação dos Tamoios contando com o apoio dos caciques guerreiros Cunhambebe e Aimberê, inimigos dos lusos, que, por sua vez, tiveram ao seu lado os tupiniquins, mas isso não foi o suficiente para o chefe francês manter o controle sobre o seu experimento social. Conflitos internos de ordem teológica envolvendo as concepções de transubstanciação e a consubstanciação ocorridos depois de uma discussão sobre a presença da água no vinho e a composição do pão, entre os pastores recém vindos, Villegagnon, um tal de Jean Cointa, e os demais, foi uma das razões que contribuíram para pôr a pequena comunidade de auto-exilados franceses a perder.
O calvinismo, rígido, puritano extremado, doutrinariamente intolerante, mostrou-se incapaz de adaptar-se à liberalidade tropical, conduzindo ao fracasso a Nova Jerusalém que os protestantes imaginavam poder construir no litoral brasílico. Uma pequena guerra civil deu-se entre os próprios reformistas, reproduzindo naquela belíssima paisagem da Baia da Guanabara os dramas sombrios porque passava a metrópole francesa (*).
Este adverso clima interno, corroído pelo ódio religioso, facilitou o sucesso da operação da expulsão deles desencadeada pelo governador-geral Mem de Sá que, partindo de Salvador com 2 naus e 8 embarcações, tomou o forte de Coligny em 1560. Para assegurar a saída definitiva dos franceses daquele local estratégico, Estácio de Sá, o sobrinho do governador, fundou a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro no atual Morro do Cão em 1565 (a vila transferiu-se para a parte interior da baia da Guanabara dois anoso depois, em 1567, instalando-se no Morro do Castelo). Desta forma durante alguns anos o Brasil, especialmente na região da baia da Guanabara, ficou tal uma espécie de cabo-de-guerra, disputado à força pelos Perôs (os lusos) e pelos Maír (os franceses).
O assassinato do Almirante Coligny em Paris, seguido da chacina dos seus partidários huguenotes, perpetrado a mando da rainha-mãe Catarina de Medici, uma fervorosa defensora do catolicismo, pela Coroa francesa na Noite de São Bartolomeu, em 28 de agosto de 1572, cancelou em definitivo o plano de reviver uma França Antártida nos trópicos e, indiretamente, contribuiu para a afirmação do Brasil seguir sendo português.
(*) Enquanto que o Catolicismo, herdeiro direto do Império Romano, acostumado ao multiculturalismo e ao ecletismo, mostrou-se mais apto e flexível para lidar com as culturas nativas tropicais, mesmo que se mostrasse chocado com o despudor geral, o Calvinismo, vindo da pequena, fria e provinciana Genebra, cidade de gente branca, mostrou-se incapaz de um convívio tolerante com elas, sendo a matriz espiritual do apartheid na África do Sul, que eles lá implantaram quase que à sua chegada em 1652.
Conclusões
O primeiro século do Brasil descoberto fez com que vários aldeamentos, feitorias, arraiais e vilas, fossem aqui instaladas, desde Natal, no atual Rio Grande do Norte, até a ilha de Cananéia, no litoral do Paraná, no sul. Um governo-geral firmara-se na Bahia e São Salvador era sua capital desde a fundação em 1549. Como disse Capistrano de Abreu “pau-brasil, papagaios, escravos, mestiços, condensam a obra das primeiras décadas”, do primeiro século podemos assegurar.
Apesar dos franceses terem sido expulsos, as incursões feitas por holandeses, normandos, bretões e ingleses, prosseguiam. O extrativismo inicial do pau-brasil e a frustração com a inexistência das esperadas riquezas, deram lugar a uma ocupação mais conseqüente, com a implantação dos engenhos de cana-de-açúcar, cuja técnica foi transplantada das ilhas atlânticas portuguesas. O amigável escambo inicial, por sua vez, deu lugar à brutalidade da servidão indígena e africana.
Foi o sucesso destas plantações que tornou o Brasil, gradativamente, na maior colônia escravista do mundo ocidental, e a mais sólida sociedade escravagista conhecida desde a queda do Império Romano no século 5, importando ao redor de 40% do grosso do tráfico negreiro, entre 1550-1850.
O desconhecimento da existência de ouro ou gemas preciosas, descoberta que só ocorrerá no final século 17, com o encontro dos veios auríferos e diamantíferos em Minas Gerais, fez com que a colonização se fixasse basicamente no litoral, ao redor das primeiras feitorias e vilas fundadas. Os brasileiros de então pareciam-se, como disse certa vez um visitante, a caranguejos presos às areias das praias. O senhor dono de terras, o latifúndio, a monocultura e o escravo, formarão por sua vez um complexo sócio-econômico que definiu a vida brasileira por quase quatro séculos, sendo a gênese da estrutura social fortemente hierárquica e imensamente desigual que nos acompanha, ainda que com atenuações, até o presente.
O domínio dos jesuítas na educação e na catequese é absoluto, mas longe de ser suficiente. Os colégios que fundaram, espalhados de Salvador na Bahia até São Paulo em São Vicente, são os poucos centros de alfabetização e difusão da instrução do Brasil Colônia. A escassa luz em meio a floresta tenebrosa. A marca da Contra-Reforma estará também presente na intolerância e no apego a um catolicismo radical, responsável pelo excessivo gasto no erguimento e no ornamento de igrejas e capelinhas, no interminável mandar rezar missas e em pródigas doações beatas. Os portugueses, ao contrário do que os espanhóis fizeram em São Domingo, no México e no Peru, nunca permitiram a instalação de universidades ou faculdades, muito menos de uma imprensa livre na colônia.
A principal alteração que ocorrerá na política geral, afetando a metrópole e suas colônias, será a passagem de Portugal, por motivos dinásticas, ao controle da Espanha em 1580. A morte do rei d.Sebastião na batalha de Alcacerquibir no norte da África, em 1578, pondo fim a dinastia de Avis, fez com que Felipe II da Espanha reivindicasse seus direitos à coroa vizinha. De 1580 até a rebelião do Porto de 1640, o Brasil Colônia será administrado por um preposto dos espanhóis, enquanto os portugueses diziam-se sofrer o que a retórica patriótica mais exaltada definiu como o “cativeiro castelhano” ou “o jugo espanhol”.
Bibliografia
Abreu, Capistrano de – Caminhos antigos e povoamento do Brasil – Livraria Briguet/ Soc. Capistrano de Abreu, Rio de Janeiro, 1960
Azevedo, Fernando de – Canaviais e engenhos na vida política do Brasil – Edições Melhoramentos, São Paulo, Franco, Affonso Arinos de Mello – O índio brasileiro e a Revolução Francesa, Editora José Olympio, Rio de Janeiro, 1937
Freyre, Gilberto – Casa Grande & Senzala – Editora José Olympio, Rio de Janeiro,1978, 19ª ed.
Holanda, Sérgio Buarque – História Geral da Civilização Brasileira: a Época Colonial Do Descobrimento à expansão territorial. Difel, São Paulo,1976, 5ª ed.
Holanda, Sérgio Buarque – Visões do Paraíso Editora Nacional, São Paulo, 1969, 2ª ed.
Lery, Jean- Viagem à terra do Brasil, Editora Biblioteca do Exército, Rio de Janeiro, 1961
Loreto, Aliatar – Capítulos de história militar do Brasil (Colônia-Reino) Biblioteca Militar, Rio de Janeiro, 1946
Marchant, Alexander – Do escambo à escravidão, Companhia Editora Nacional-IEL, São Paulo 1980
Maestri, Mário – Os senhores do litoral: conquista portuguesa e agonia tupinambá no litoral brasileiro – Editora da UFRGS, Porto Alegre, 1994
Montaigne, Michel – Ensaios, Editora Globo, Porto Alegre, 1961, vol.1
Neves, Luis Felipe Baeta – O combate dos soldados de Cristo na Terra dos Papagaios, Editora Forense/ Universitária, Rio de Janeiro, 1978
Salvador, Frei Vicente – História do Brasil – Editora Melhoramentos-MEC, São Paulo,1975, 6ª ed.
Siqueira, Sonia A.- A Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial – Editora Ática, São Paulo, 1978
Staden, Hans – Duas viagens ao Brasil – Editora Itatiaia, Belo Horizonte, 1974
Schwartz, Stuart B. – Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial – Editora Companhia das Letras, São Paulo, 1988
Viana, Hélio – História das fronteiras do Brasil, Gráfica Laemmert, Edição da Biblioteca Militar, Rio de Janeiro, 1948
Weckmann, Luis- La herencia medieval del Brasil – Fondo de Cultura Económica, México, 1993